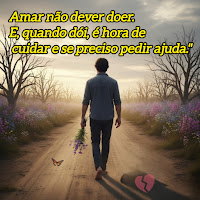Esse breve episódio, proclamado com frequência nas memórias de Nossa Senhora e na liturgia ferial da 16ª semana do Tempo Comum, revela com nitidez a profundidade profética da pedagogia de Jesus. Ele não nega seus laços familiares, tampouco os despreza. Ao contrário: honra-os, mas os transfigura. Ao reconfigurar a noção de família, Jesus nos chama a uma conversão radical de nossas relações — com Deus, com os outros, com as estruturas sociais e religiosas. Não se trata de abandonar vínculos afetivos, mas de relativizá-los diante de um chamado mais alto: o de viver na escuta e na prática da vontade de Deus, critério definitivo de pertencimento à nova comunidade do Reino.
Esse versículo está no final de uma sequência de confrontos com os fariseus e mestres da Lei (Mt 12,1-45). O capítulo inteiro revela o choque entre a lógica do Reino — centrada na misericórdia, no acolhimento e na obediência a Deus — e as estruturas de poder religioso, jurídico e moral que distorcem a fé para controle. No episódio anterior, Jesus já havia declarado: “Eu quero misericórdia, e não sacrifício” (Mt 12,7; cf. Os 6,6), e acusara aquela geração de buscar sinais espetaculares, mas sem abertura interior para a conversão (Mt 12,39-42). O contexto imediato, portanto, é um convite à ruptura com os vínculos baseados apenas em tradições culturais ou biológicas, e à adesão a um novo princípio de filiação: a escuta e a prática da vontade de Deus, que é sempre exigente, libertadora e fecunda.
Jesus está revelando uma antropologia nova: não somos definidos pelo sangue, pela linhagem, pelo nome de família ou pelas instituições, mas pela escuta e adesão à Palavra que transforma. Lucas reforça isso quando registra: “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 8,21). Marcos, por sua vez, situa essa fala após a acusação de que Jesus estava possuído por Belzebu (Mc 3,20-35), indicando que a nova família não se organiza por laços naturais, mas pelo discernimento espiritual. Como diz o prólogo joanino: “A todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus… não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus” (Jo 1,12-13).
Essa redefinição de família, sob a ótica de Jesus, desestabiliza qualquer pretensão de apropriação religiosa, tribal ou eclesiástica da salvação. Jesus denuncia o etnocentrismo dos grupos religiosos de sua época, mas também antecipa o que Paulo desenvolverá com clareza: “Em Cristo já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher” (Gl 3,28). A nova comunidade do Reino é formada por todos os que se dispõem a viver a vontade do Pai: com fé, coragem e fidelidade, como Abraão (cf. Gn 22,18), como os profetas perseguidos (cf. Mt 5,12), como os pequenos que recebem o Reino com coração aberto (cf. Mt 18,3-4).
Maria, longe de ser excluída, é aqui exaltada. Ela é a primeira a fazer a vontade de Deus (cf. Lc 1,38), a mulher que guarda todas as coisas no coração (cf. Lc 2,19.51), a discípula fiel até o pé da cruz (cf. Jo 19,25). É ela que proclama: “O Senhor fez em mim maravilhas… derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes” (Lc 1,49.52). Sua maternidade espiritual não se reduz ao aspecto biológico: ela é mãe porque escuta, crê e segue. É figura da nova humanidade redimida. A tradição e o Magistério reconhecem nela não apenas a Mãe do Verbo encarnado, mas a imagem da Igreja que caminha na fé (cf. LG 63), a primeira entre os discípulos e a mais próxima da vontade do Pai.
Essa Palavra é profundamente contracultural. Em tempos em que a fé é mercantilizada, manipulada para interesses de poder ou reduzida a um espetáculo de likes e aplausos, Jesus declara: “Minha família é quem faz a vontade do Pai”. A fé verdadeira é a que se traduz em prática, não em performance; em compaixão, não em dogmatismo; em comunidade, não em individualismo espiritual. A parábola da casa sobre a rocha, que precede esse trecho (cf. Mt 7,24-27), ecoa aqui como chave hermenêutica: só quem ouve e pratica a Palavra constrói sua vida sobre alicerces sólidos.
A fé como mercadoria, alimentada por teologias da prosperidade, não encontra espaço no projeto de Jesus. Ele não chamou uma elite privilegiada, mas uma multidão sedenta, marginalizada, doente, excluída. A família de Jesus é a dos que não têm poder, mas se fazem pequenos para acolher o Reino (cf. Mt 11,25). A fé do Reino é partilha, é cruz, é comunhão de dores e esperanças. O clericalismo, por sua vez, que cria castas dentro da Igreja, encontra nesta cena uma denúncia: Jesus estende a mão não aos especialistas da Lei, mas aos discípulos simples, anônimos, disponíveis. A nova família não tem lugar para a arrogância espiritual.
Do ponto de vista psicológico e antropológico, esse chamado à nova filiação exige maturidade emocional e responsabilidade moral. Romper com dependências, inclusive religiosas, para assumir um caminho livre e autêntico, implica sofrimento, desapego e discernimento. “Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim” (Mt 10,37) não é desprezo pelos laços afetivos, mas um alerta: o Reino exige prioridade. Como diria Kierkegaard, é preciso escolher “o absoluto em vez do relativo”. Ser discípulo é sempre uma decisão que ressignifica todos os vínculos: familiares, sociais, religiosos, econômicos
Por isso, essa Palavra ressoa hoje com força particular: em uma era de tribalismos ideológicos, de radicalismos identitários e de seitas religiosas que tentam capturar a fé com promessas de poder, cura ou prosperidade, Jesus nos convida à comunhão aberta, livre e operante com todos os que fazem a vontade do Pai. Fazer essa vontade é escutar a Palavra (cf. Dt 6,4), meditar nela dia e noite (cf. Sl 1,2), praticá-la no concreto da vida (cf. Tg 1,22), vivê-la no amor (cf. Jo 15,10-12).A cena termina com um gesto: Jesus estende a mão para os discípulos e diz: “Eis minha mãe e meus irmãos” (Mt 12,49). É um gesto de fundação eucarística e profética. Estender a mão é partilhar a missão, é confiar a Palavra, é reunir uma nova humanidade. Ali nasce a nova casa: não feita de tijolos ou de regras, mas do Espírito que sopra onde quer (cf. Jo 3,8), do amor que liberta (cf. Gl 5,1), da comunhão que supera as fronteiras (cf. Ef 2,14-19).É essa casa que somos chamados a construir: com Maria, com os discípulos, com todos os que se dispõem a dizer “faça-se em mim segundo tua Palavra”. Não por nome, não por tradição, não por aparência — mas por escuta, fé e ação. Eis a nova família: comunidade de irmãos, irmãs, mães… filhos e filhas do Reino que vem.